 Do Portal IHU Online РEntrevista com Luiz Vadico, por Mois̩s Sbardelotto
Do Portal IHU Online РEntrevista com Luiz Vadico, por Mois̩s Sbardelotto
As sutis alterações causadas na teologia tradicional
Não há dúvida de que, em uma sociedade alimentada pelo culto à imagem, o cinema é uma das fontes mais abundantes de elementos para a construção do seu imaginário social. E os construtos que daà nascem alcançam os mais diversos ambientes, como, por exemplo, templos e igrejas. Ou senão, entre os não crentes, o cinema também cativa pela espiritualidade vaga e difusa, sem um “Deus” único especÃfico.
Para compreender como se dá essa relação cinema e religião, a IHU On-Line entrevistou, por e-mail, o Prof. Dr. Luiz Vadico, da Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo.
Para ele, “o cinema serve para emocionar”, citando Jean Mitry. Mas é também “um registro do imaginário social de uma época”. Por isso, nesta entrevista, Vadico nos ajuda a compreender qual a razão de Hollywood, especificamente, estar se voltando para temáticas espirituais de fundo religioso. Passando também pelo cinema autoral e brasileiro, o historiador e doutor em multimeios analisa também a obra do diretor polonês Krzysztof Kieslowski, “Decálogo” (1989), que será exibida na programação da Páscoa IHU 2010, em março deste ano.
Luiz Vadico é professor titular do mestrado em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Historiador formado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é mestre e doutor em Multimeios pela mesma instituição. Atualmente pesquisa Narratividade e Estética nos Primeiros Filmes de Cristo (1897-1921).
Confira a entrevista.
Nos últimos anos, especialmente com o sucesso de “A Paixão de Cristo”, de Mel Gibson, temos visto o cinema abordar com mais força questões como a espiritualidade e a existência do ser humano diante do universo. Sinal disso é, por exemplo, o sucesso de bilheteria de “Avatar”. Como você analisa esse fenômeno? É uma tentativa de tentar buscar respostas a uma situação contemporânea de crise?
O Cinema tentando encontrar respostas para uma situação de crise?! Bem, terÃamos de ser muito otimistas para acreditarmos nisso. O cinema hollywoodiano tem uma preocupação séria, que é a do entretenimento. Raramente está buscando qualquer resposta para uma crise qualquer. Às vezes coopera nesta ou naquela questão, como foi o caso da cooperação com o governo americano no perÃodo da Segunda Guerra Mundial, mas lá se vão algumas décadas de distância. Hollywood se preocupa com o mercado, com o que dará uma boa bilheteria e com aquilo que a arriscará. E isso também foi uma verdade quando se tratou de grandes produções como os épicos bÃblicos mais famosos, como foram os “Dez Mandamentos” (DeMille,1956), “Ben-Hur” (Wyler,1959) e diversos filmes de Cristo.
O que há de comum nesses casos? Ignoro como “Avatar” vem sendo anunciado nos Estados Unidos, mas no Brasil o seu apelo tem sido a “revolução tecnológica”. O público está sendo convocado para apreciar os efeitos 3D. Isso o filme tem em comum com todas as grandes produções hollywoodianas. Os efeitos visuais, as novas tecnologias agregadas etc. são o grande chamariz. Basta dizer, por exemplo, que “O Manto Sagrado” (1953) inaugurou o processo do cinemascope. Não era um filme religioso, tocava no assunto levemente. Mas o seu chamariz não foi o assunto; foi a nova tecnologia. E, mesmo naquela época, se tratava de uma nova tecnologia que visava fazer frente aos avanços da televisão. “Avatar” se trata de uma busca do cinema para se sustentar enquanto prática num mar de produtos midiáticos. Ele se deseja uma “experiência” que só pode ser vivida no espaço do cinema.
Em “Avatar“ não é importante se há ou não panteÃsmo. O que é importante para o público é se há um bom roteiro que acompanhe as novas possibilidades tecnológicas. Pois o público atual já é bastante educado, e faz muita diferença a qualidade do roteiro. O fator determinante para pensarmos a questão religiosa relativa ao “panteÃsmo” é perguntarmo-nos acerca de quantos adeptos o panteÃsmo possui oficialmente, quantas igrejas, quantas almas ele salvou, quantas vidas ele realmente modificou.
Se não temos nada disso ou o temos numa dimensão Ãnfima, não me parece uma questão relativamente ao âmbito do religioso. E isso por duas razões: não é a intenção de Hollywood e não afeta o público neste sentido. Todo filme religioso, ou com assunto religioso – mesmo do mais distante passado –, quer atingir espiritualmente o espectador. Busca formas estéticas e narrativas para tanto. O que Hollywood está fazendo – mui sabiamente – é não se imiscuir em questões onde sabidamente ele teria problemas. Envolver-se com cristianismo, islamismo e judaÃsmo, com representantes organizados e com crenças bastante claras e definidas, sempre significou dificuldades para os produtores americanos. Um risco sério para os grandes recursos envolvidos neste caso.
Hollywood explora fragmentos de discurso religioso, recentes ou atávicos em nossa sociedade. No entanto, no caso dos filmes citados, com exceção da “Paixão de Cristo” (2004), não está fazendo religião, não deseja isso, muito pelo contrário. Se há um culto envolvido aà – extrapolando – é o culto da tecnologia e da ciência moderna.
No que tange ao cinema, ele é muito importante como um registro do imaginário social de uma época, em geral daquela na qual o filme foi produzido. Sim, temos indivÃduos “panteÃstas” por aÃ, ou melhor, ideias panteÃstas a solta. Mas como tudo o que veio no conjunto da pós-modernidade, ideias fragmentadas, informações difusas, e, não, isso não contribui para nenhum aclaramento das questões dos indivÃduos. No mÃnimo, coopera para que a fragmentação do discurso religioso prospere. E, se o fundamentalismo não interessa – apesar de prosperar –, a fragmentação é ainda menos desejável, pois não coloca rumos claros para o individuo se direcionar frente aos problemas que são verdadeiros. O problema verdadeiro é o ecológico? Nunca foi, ele é apenas um sintoma daquilo que fizemos de nós. Esse é o problema verdadeiro, e Hollywood se mantém distante dele, porque não é o que lhe interessa.
Como o cinema lida com a questão religiosa e o sagrado?
Isso é assunto para um livro inteiro. E logo lançaremos esse livro sobre o Campo do Filme Religioso. Esse campo é formado pelo conjunto de produções que tratam temas ou assuntos religiosos e conta com uma grande massa de produções midiáticas. Ele se formou desde o inÃcio da história do cinema e se estendeu pelo desenvolvimento midiático em geral. Mas uma das suas caracterÃsticas marcantes é que ele não é um campo independente e tranqüilo. Ele se organiza sobre outros dois campos distintos: o Campo do Religioso (instituições religiosas e adeptos) e o Campo FÃlmico (produtores em geral). Todas as produções importantes conhecidas necessitaram buscar um equilÃbrio entre esses dois campos: o Campo do Religioso, cioso dos seus assuntos e de suas responsabilidades, e o Campo FÃlmico, desejoso de conseguir lucrar com o público daquele.
O que tivemos ao longo da história do cinema foi uma confrontação constante, e os filmes que foram produzidos são o resultado dessa conflagração de forças sociais e religiosas, o que não é ruim, pois levou os religiosos a repensarem seus caminhos, e os produtores, a limitarem excessos. É isto que devemos entender quando Hollywood pretensamente escolhe o “panteÃsmo”: é uma forma tranqüila. Imaginemos o que aconteceria se o herói do filme “Avatar” tivesse que salvar Jesus Cristo das mãos dos arqui-inimigos dos Na’Vi… Não, isso não terminaria bem.
Listar grandes obras da relação cinema versus religião me parece algo bem subjetivo. Pessoalmente, acho mais tocantes, no que respeita ao cinema massivo, filmes como: “The King of Kings” (DeMille, de 1926), por se tratar da primeira forma narrativa a superar a relação com os filmes de Peça da Paixão e ao mesmo tempo propor uma leitura teológica particular da vida de Cristo; “A Canção de Bernadette” (King, 1943), por causa da qualidade do roteiro, explora vários temas importantes como a relação ciência/religião, fé/instituições religiosas, religiosidade popular/instituições, e ainda consegue emocionar; “Marcelino Pão e Vinho” (Vajda, 1955), pela pureza infantil do tratamento, que chega a ser tocante; “Uma Cruz à Beira do Abismo” (Zinnemann, 1959), pela seriedade no que tange à vocação religiosa; um que não é religioso, mas me marcou pela honestidade da representação de um religioso em suas funções, “Roma Cidade Aberta” (Rosselini, 1945); “Os Trapalhões no Auto da Compadecida” (Faria, 1987) dos Trapalhões, pela fineza do tratamento da religiosidade popular brasileira; “Jesus de Nazaré” (Zeffirelli, 1977), por todas as razões imagináveis, roteiro, direção, atuações, harmonização dos textos evangélicos, soluções de problemas cinematográficos, mas, principalmente por causa da cena das “admoestações”, inesquecÃvel. “A Maior História de Todos os Tempos” (Stevens, 1965), pela beleza, o apuro estético e por utilizar o tempo como um elemento reflexivo.
No cinema autoral, Bergman me atrai em “O Sétimo Selo” (1956), suas metáforas e angústias são fascinantes. Só Bergman para colocar o protagonista jogando xadrez com a morte. O Rossellini de “Viagem à Itália” (1954), que instaura belissimamente o sagrado pagão em meio a um cristianismo que permeia até as rochas na Itália. Também vejo com bons olhos as experiências documentais de Godfrey Reggio da trilogia “Qatsi”, e o seu desenvolvimento que levou a “Baraka” (1992), de Ron Fricke. Ali sim podemos nos deliciar com uma experiência estética, narrativa e que fomenta uma experiência do sagrado (panteÃsta?). Chamou-me muito a atenção o trabalho do brasileiro Marcelo Masagão em “Nós que aqui estamos por vós esperamos” (1998). O aspecto da finitude humana é realmente algo que emociona e nos faz refletir. Gosto de ver nele uma relação com o sagrado cristão, talvez porque remeta ao “tu és pó e ao pó retornarás”.
O crÃtico norte-americano Ross Douthat, em artigo para o The New York Times, afirmou que o panteÃsmo foi a “religião de escolha de Hollywood durante toda uma geração”. Em sua opinião, existe uma “religiosidade” por trás de Hollywood e do cinema em geral?
Uma boa parte dos filmes citados pelo crÃtico têm de ser contextualizados, pois fora de seu contexto original podem ser utilizados de maneira inadequada. Por exemplo, muito se falou da “jornada do herói” em “Guerra nas Estrelas” (Lucas, 1977). Joseph Campbell, famoso historiador das religiões, serviu como consultor para aquele trabalho. O protagonista do filme era para ser Luke Skywalker, e foi. No entanto, o que mais nos lembramos é do Capitão Hans Solo, da Princesa Leia e do famigerado Darth Vader. Hans Solo roubou tanto a cena que catapultou a carreira de Harrison Ford. Bem, como fica a jornada do herói quando o protagonista do filme não decola?
Se temos panteÃsmo em “Guerra nas Estrelas”, se deve, sobretudo a uma questão de roteiro, afinal, Jesus Cristo é a encarnação de Deus na Terra, planeta azul que bem conhecemos. “Guerra nas Estrelas” se passa num outro “tempo”, num outro espaço. Seria impróprio procurar cristianismo ali. Nesse sentido, o panteÃsmo serve bem, pois não compromete. E ele é aceitável para o espectador, exatamente por não comprometer. Traz uma miscelânea de conceitos fragmentários retirados do imaginário religioso que não tem significado profundo nenhum.
Mesmo enquanto pesquisador, não acho que exista na natureza do veÃculo cinema qualquer coisa de religioso ou de religiosidade. Seria conveniente que tivesse, mas não, infelizmente não tem. É apenas um meio como outro qualquer que serve de expressão para o talento humano, aqui visto em sentido amplo. Já existiram opiniões em contrário, desejando ver no cinema, e mesmo na televisão, um poder maior do que eles realmente possuem. Sem retirar a capacidade de influência da mÃdia, podemos dizer que o espectador é influenciado conforme o seu próprio desejo. O espectador não é passivo diante dos produtos midiáticos. Há várias provas disso, mas as mais corriqueiras podem ser verificadas exatamente no âmbito dos filmes religiosos produzidos ao longo da história do Cinema. Desde “Da manjedoura à Cruz” de 1912, até a “Paixão” de 2004, todos os filmes receberam crÃticas, quer fosse dos espectadores via jornais, imprensa televisiva etc, quer fosse de representantes de autoridades religiosas, ou ainda de crÃticos de cinema. Então, sem retirar o aspecto importante da influência da mÃdia sobre uma determinada população, devemos sempre ter em mente que essa população recebe as mensagens de acordo com suas necessidades.
Diversas outras obras abordam a relação do ser humano contemporâneo diante do “apocalipse”, como “2012” e os próximos lançamentos “A estrada” e “Legion”. Em sua opinião, o que isso pode nos revelar sobre a nossa sociedade contemporânea?
Vivemos há quase duas décadas um fenômeno de mundialização, um outro fenômeno de mundialização, uma vez que passamos por vários. Nesse processo, é necessário sabermos mundializar o que é mundializável das diversas culturas e preservar o quanto possÃvel as particularidades culturais de cada região e paÃs. Aqui toco nesta questão por que você colocou a ideia de “nossa sociedade”. A nossa sociedade é o Brasil, com diversas particularidades regionais e culturais.
Quando Hollywood, em seu aspecto de produtor massivo, está há alguns anos produzindo filmes “apocalÃpticos”, devemos nos perguntar por que a cultura americana os está realizando e por que lá eles se originam. Se olharmos para o cinema brasileiro verificaremos que não produzimos nada apocalÃptico. Esses filmes, em termos de gênero cinematográfico, descendem dos filmes de “cinema catástrofe”, que tiveram um bom incremento nos anos 70 e 80. Fazem parte dessa série os conhecidos filmes “Aeroporto” (Seagal, 1970), “Inferno na Torre” (Guillemin/Allen, 1974), “O Destino do Posseidon” (Neame, 1972), e aquele que foi um marco e que provavelmente inaugurou a série apocalÃptica, “O Dia Seguinte” (Meyer, 1983). Naquela época vivÃamos a constante tensão da ameaça nuclear, criada pela polarização capitalismo-comunismo. O filme impressionou bastante e levantava a questão de como seria o dia seguinte após uma catástrofe nuclear. Naquele contexto, o filme tinha uma razão de ser bastante clara. E quando digo que ele foi um marco, digo por que ele de fato levou as pessoas a uma profunda reflexão.
Mas ele deu também a dimensão para Hollywood de que catástrofes globais, a partir do solo americano vendiam bem. E estávamos chegando ao final do século e de um marco de passagem importante, o ano 2000, uma passagem de milênio que afetaria a sociedade Ocidental, geralmente com ansiedade e medo. E que nos afetou porque o Ocidente é de formação cristã. E, mesmo que essa não seja a principal mensagem do cristianismo, a escatologia do fim dos tempos está presente nos Evangelhos. Nesse sentido, é importante lembrarmos que a sociedade americana é altamente cristianizada e é permeada por um fundamentalismo que atinge todas as ramificações religiosas. É uma caracterÃstica da sociedade americana. É de lá que vem o fundamentalismo evangélico, é de lá que vem a exigência de leitura literal da BÃblia. Então, para os americanos, o Apocalipse ocorrerá, e a maior parte deles não têm a menor dúvida disso. E ocorrerá através da destruição, afinal, uma leitura simplista do Apocalipse de João nos informa isso.
Vejo como natural a produção desses filmes pelos americanos, pois o fundamentalismo e o maniqueÃsmo que ele implica e toda a relação de punição e castigo são coisas que surgiram em solo americano no final do século XVIII e progrediram ostensivamente no século XIX, até amainar relativamente no século XX. Esse fenômeno se deu através do trabalho de vários pregadores que organizavam os grandes “avivamentos” ou “despertares”, buscando uma simplificação teológica do cristianismo para que pudessem atingir emocionalmente a massa. Então, que um americano queira dar uma espiadela no futuro e ver como será a destruição do dia do JuÃzo, mesmo que eles o mostrem como uma metáfora, sinto que é uma necessidade perfeitamente natural daquela sociedade.
Outra ideia é a de que os americanos chegaram num tal patamar de dominação planetária ao final do século XX que passaram a se ver como a única ameaça para si mesmos. Apenas eles com seus “erros” podem ser responsáveis por se autodestruÃrem. Com o tempo, passaram a figurar a catástrofe de forma global, destruindo imageticamente os monumentos de diversos paÃses do mundo. Então, percebamos, sempre, nesses filmes, ou são os americanos e seu governo ou a corrupção que levam à destruição. Eles sempre são, de forma direta ou indireta, responsáveis pela catástrofe, e ao mesmo tempo responsáveis por impedi-la. E quando não são eles próprios os responsáveis, somos vÃtimas de algum ataque alienÃgena interplanetário.
Quando lançaram “O Dia Seguinte”, foi a primeira vez que o mundo foi destruÃdo pelo homem. Até então, era Deus o responsável por isso, sempre em filmes bÃblicos, haja vista o caso do Dilúvio. Mas agora o homem já podia assumir esse estranho poder, o poder de iniciar o Dia do JuÃzo, ser responsável por ele. Mas o perigo da banalização é idêntico ao da banalização da violência. Esses filmes são um sintoma de que a sociedade americana está em crise. Está um pouco sem rumo diante dos caminhos da globalização e do excesso de conforto. Sinto que esse aspecto social é tão ou mais relevante do que o aspecto religioso envolvido. O religioso é causa, mas os filmes são sintomáticos.
É importante notar que a formação religiosa dos brasileiros é diferente e diversificada. Somos muitos e plurais. Nem todas as religiões brasileiras preveem catástrofes e juÃzos finais. E mesmo as cristãs são permeadas por uma leitura “popular” que acabou se mostrando bastante saudável. Parece-me que no Brasil se crê em tudo, que o mundo irá acabar e que inclusive ele não irá acabar, e não é estranho que o mesmo individuo acredite desacreditando das duas coisas ao mesmo tempo.
Como você analisa essa “saÃda” dos temas e figuras religiosos do domÃnio e do controle das religiões para a (re)criação livre por meio da arte, especialmente do cinema?
Desde o surgimento do cinema, os religiosos – aqui o termo é usado em sentido amplo – buscaram se apropriar do novo meio, e, inversamente, o novo meio buscou se apropriar dos assuntos religiosos para atrair determinado público para as salas de entretenimento. Um desejava usar como meio catequético e pedagógico, e o outro, como fonte de lucro através do entretenimento saudável.
Em estudo recente, pudemos perceber que esse embate foi extremamente positivo. Nem sempre foi um diálogo, mas sempre que possÃvel este se estabeleceu. De um lado, tivemos religiosos e instituições religiosas que acabaram se tornando mais flexÃveis, e, se tivermos em vista o século XIX, este acabou sendo um efeito bastante positivo, pois o produto midiático acabou por levar informações e opções visuais e teológicas à s vezes mais próximas, à s vezes mais distanciadas do saber tradicional, o que possibilitou nos diversos momentos uma discussão pública e massiva de temas que poderiam estar “estagnados” no interior dos templos e igrejas.
Ora, esses temas e assuntos, entrando para o domÃnio público, permitiram um maior diálogo da sociedade, uma maior opção de escolhas, maior diversidade de ideias, o que para nós sempre é positivo. Particularmente penso, que o processo de desculpabilização dos judeus pela morte de Jesus Cristo se iniciou pelo cinema, e creio que isso é um dado extremamente importante que não pode ser negligenciado.
O efeito disso é teologia. Como diz o teólogo Clive Marsh, basta falar sobre Deus e estamos fazendo teologia. Mesmo que isso não esteja na intenção do diretor ou produtor, vivemos numa sociedade de maioria cristã, fomos criados com esta ou aquela versão teológica, e não nos livramos dela, vivemos com ela e com pessoas que nela foram educadas. Então, um produto midiático qualquer que tenha assunto religioso sempre possui uma mensagem teológica, seja ela bem ou mal definida, ela sempre está lá. Esse é o construto final. A conseqüência dessa produção de teologia pelo cinema é que ela altera sutilmente a teologia tradicional. Mas isso não chega a ser um fenômeno negativo, pois produtoras de origem religiosa também produziram filmes e séries nos quais novas imagens cristológicas foram desenvolvidas, caso de “O Cristo Vivo”, da produtora Cathedral, de 1953.
A suposta “saÃda” desses assuntos do âmbito da religião há muito foi revertida. Nos últimos 20 anos, houve uma imensa produção de produtos midiáticos realizada por produtoras confessionais ou a elas ligadas. Existem centenas e centenas de tÃtulos disponÃveis em DVD, CD-Rom e na Internet, todos facilmente acessÃveis para o público que se compraz nesse material. Além disso, a penetração dos religiosos no mundo televisivo vem crescendo a passos largos em escala planetária, inclusive no Brasil. Mas, curiosamente, esse avanço é silencioso, pois não se dá no âmbito cinematográfico.
Durante décadas, os avanços dos produtores, hollywoodianos ou não, no âmbito do assunto religioso foi pequeno, mas progressivo. Chegamos a uma grande liberdade no momento em que filmes como “Jesus Cristo Superstar” (Jewison, 1973) e “Godspell” (Greene, 1973) foram produzidos, no inÃcio dos anos 70. Mas, com certeza, os produtores de todos os tipos perceberam que essa liberdade tinha limites muito claros quando se fez um filme como “A Última Tentação de Cristo” (Scorsese, 1988). O fato dos produtores terem alcançado perante as leis o direito de tratar desses assuntos como bem entendessem não significou que pudessem efetivamente fazê-lo. Fizeram, mas em seguida recolheram-se, tanto é que a última experiência com Filmes de Cristo foi “A Paixão” de Gibson, que significou um grande retorno da tradição, e não da criatividade e inovação.
Em fins dos anos 50 e ao longo dos anos 60, tivemos o fenômeno do chamado “cinema autoral”, e junto dele, correndo lado a lado, o cinemanovismo. O cinema autoral, como já diz o próprio nome, é o trabalho de um autor, de um diretor que deseja deixar sua marca pessoal. Em geral, deseja fazer um filme-arte, dar a sua contribuição pessoal para a arte cinematográfica ou para a sociedade. Trata-se sobretudo da “opinião dele” sobre o assunto.
Com muitas idas e vindas, esse tipo de cinema conquistou adeptos e algum público. Mas uma das suas caracterÃsticas mais marcantes foi a de ser um trabalho vinculado à critica. CrÃtica ao sistema de produção, crÃtica à sociedade, crÃtica à s instituições. Um tipo de produção midiática que tem um público mais do que definido. Em geral, a população, ao menos a brasileira, se afasta deles com horror, são apenas classificados de “chatos”. De qualquer forma, é um tipo de produção que se deseja mais reflexiva, à s vezes, apenas pretensiosa. Tivemos trabalhos de bastante valor que vieram sob a alcunha de cinema de autor, como foi o sempre citado “O Evangelho Segundo São Mateus” de Pasolini, de 1964. Esses filmes são de pessoas mais intelectualizadas e direcionados para um público mais intelectualizado, mesmo quando seus artÃfices desejaram direcioná-lo para o “povão”. Atualmente, as grandes produtoras já cooptaram o cinema autoral e sabem direcionar o que sobrou dele para o público que dele necessita.
Como comentei anteriormente, a minha perspectiva é a de um pesquisador voltado para a produção massiva, e aqui leia-se para as “massas”. Gosto bastante de um teórico clássico de cinema chamado Jean Mitry, que em seu livro “Estética e Psicologia do cinema” – que estranhamente não tem tradução para o português até hoje – fez uma afirmação muito marcante: “O cinema serve para emocionar”, causar emoções. Concordo plenamente com Mitry no que diz respeito ao cinema narrativo. É isso que o cinema massivo faz, e é isso que o público procura geralmente nas suas salas, emoções. Sejam elas de terror, riso, tristeza, alegria, ou de piedade: emoções. E, os filmes de assunto religioso que obtiveram maior sucesso e repercussão foram exatamente aqueles que tiveram a capacidade de emocionar positivamente o público.
Por outro lado, no Brasil, mesmo que indiretamente, a religiosidade sempre permeia as obras cinematográficas, com elementos e alegorias ao catolicismo e também do sincretismo religioso, como em “Central do Brasil”. Como você percebe a manifestação da religiosidade no cinema brasileiro?
Em geral, o cinema brasileiro fica longe das questões religiosas. Isso sempre me causou estranheza, já que a religiosidade neste paÃs borbulha por todos os lados. Elementos religiosos diversos abundam nos filmes brasileiros, mas sempre como referência fragmentária e mal desenvolvida e, em geral, sem a pretensão mesmo de serem desenvolvidos. Aparecem como elementos de pano de fundo ou fazem parte efetiva das histórias contadas, mas não são o assunto. Normalmente, são apenas manifestações estereotipadas que pouco ou nada têm a dever à s religiões que acabam citando. Acho que a forma como as religiões afro-brasileiras são mostradas nos filmes nacionais são um exemplo gritante disso. Algumas vezes mostradas de forma preconceituosa, como nos anos 50 até o anos 70, outras vezes apenas de forma estereotipada, como se fizessem parte de algum mistério ou guardassem traços de um filme de horror. No que toca ao cristianismo, geralmente é a estereotipação clássica: aparecem personagens carolas, padres levianos ou excessivamente moralistas.
As produções brasileiras de assunto religioso são recentes. E, acredito que razoavelmente bem sucedidas, como é o caso de “Maria, Mãe do Filho de Deus”, com a participação do Padre Marcelo Rossi, de 2003, e de “Irmãos de Fé”, sobre Paulo de Tarso, de 2004, também com a participação do religioso. No quesito sucesso, achei realmente muito bem sucedido o primeiro filme, pois conseguiu trazer para a tela elementos do catolicismo vividos pela população brasileira. Acho extremamente marcante a abertura do filme, na qual uma senhora canta uma melodia tradicional católica. Aquilo era verdadeiro, aquilo é tipicamente brasileiro. Aquela melodia chorosa, cantada naquele tom e daquela forma. A imagem de Jesus resultante do filme era brasileira. Um Jesus sorridente, afável, de gestos expansivos, claramente amigo dos amigos. Um Jesus que tocava as pessoas fisicamente e que era tocado por elas, e isso é muito nosso, botar a mão no outro, chegar perto. Nenhuma outra produção em nenhum lugar do mundo tem isso.
Outro filme marcante e que não teve a pretensão de ser religioso mas levou eficazmente a religiosidade brasileira para as telas foi o filme dos Trapalhões, “O Auto da Compadecida”, de 1987, em minha opinião, infinitamente superior à versão de Guel Arraes. O Jesus negro representado por Mussum é antológico, possui toda graça, leveza e seriedade que Jesus parece nos suscitar. E, novamente, isso é nosso, autenticamente nosso. Onde mais um Jesus Cristo num sorriso à provocação do protagonista do filme confessaria que era “crente”?
Nosso Deus parece estar distante das ameaças e carrancas do Deus de outros paÃses, ele não desperta reflexão. Nos dois casos, ele denota exemplo e emoção. Coisa bem diferente das produções hollywoodianas e autorais.
A série “Decálogo” (1989), do diretor polonês Krzysztof Kieslowski, que será exibida na programação da Páscoa IHU 2010, apresenta adaptações livres dos Dez Mandamentos do Antigo Testamento. Como essa obra pode ser analisada a partir da relação cinema e religião?
Relativamente à questão cinema e religião, honestamente não buscaria enquadrar esses filmes nela. Minha perspectiva sobre filme religioso e das relações cinema e religião é bastante fechada, pois, tendo em vista as necessidades acadêmicas, necessitamos especificar muito claramente o objeto de estudo. Ora, um filme religioso ou de assunto religioso digno desse nome, precisa ter algumas caracterÃsticas especÃficas, como:
- Tema ou assunto religioso, socialmente reconhecido como tal.
- A busca de despertar as emoções especificamente ligadas ao mundo religioso, como por exemplo: compaixão, arrependimento, esperança etc., desejam também fortalecer a fé dos seus seguidores, ou até mesmo despertá-la.
- Toda essa produção possui alguma forma de Teologia a ela vinculada, seja através de intenções claras, seja através dos pressupostos teológicos dos seus produtores. Não podemos perder isso de vista: toda produção de origem religiosa é um produto teológico.
- A participação de consultores religiosos em sua produção; ou vinculação a instituições de origem religiosa.
- A intenção da produtora ou do cineasta em fazer um filme que trate do sagrado.
- A conotação de “produto outro” diferenciado, “puro”, adequado.
- Garantia da qualidade moral do conteúdo do filme. Às vezes, essa garantia é dada por instituições religiosas, através de index, revistas, sugestões em paróquias, e outras indicações encontradas na propaganda dos filmes, quer sejam em seus trailers quer seja em seus cartazes.
- São “militantes”. Os filmes religiosos não causam indiferença; as pessoas gostam ou não gostam, aceitam ou rejeitam, qualificam ou desqualificam, mas eles pedem resposta. Primeiramente porque são feitos para atingir o público, e este sabe disso; por isso a resposta, “sim” ou “não” ou “tanto faz”, mas sempre há uma resposta social ou individual para essa produção. É um produto que podemos chamar, resguardadas as devidas proporções, de militante, pois nem sempre se trata de militância ostensiva e óbvia.
Por essa rápida caracterização podemos perceber de imediato que a obra do diretor não pertence ao Campo do Filme Religioso; até toca nele, dialoga com ele, mas a relação cinema e religião se trata de uma obra que tem de ser discutida por si mesma, mais ou menos à parte da produção massiva.
E aqui fica uma espécie de provocação, já que se pretende exibir e discutir esses filmes. A obra me parece uma tentativa de buscar relações éticas laicas que independam da religião, apesar de se utilizar dos Dez Mandamentos como inspiração. É uma busca de reatualizar o Decálogo para o contexto do autor em seu paÃs. Parece-me distante da religião. São reflexões éticas. A ética é parte importantÃssima da religião, mas o sentimento religioso se situa para além da ética. O sentimento religioso instaura uma ética, nunca o contrário.
A obra desse diretor está permeada de certo existencialismo contemporâneo, carregada de angustias existenciais e sociais. Não devemos fazer vistas grossas a essas angústias. São polonesas, e a maior parte delas, contemporâneas. Mesmo que gostemos de vê-las como “categorias universais”, será que da forma, e com o conteúdo, que são apresentadas elas nos cabem? Devemos tomar cuidado ao universalizarmos as angústias. Além do mais, algumas vezes, os Dez Mandamentos têm sofrido uma estereotipação muito grande. Num contexto cristão, eles necessitam estar sempre sob a ótica de Jesus Cristo, e o dele é um pensamento no qual a misericórdia prevalece sobre todas as restrições.
Para mim, os aspectos centrais de análise da obra não seriam a partir da proposta do diretor, mas eles devem estar postos na nossa recepção daquilo que ele fez. Se estamos tratando de religião e cinema, a primeira questão é: se trata de religião? De que religião trata? Para que serve a religião? Isso está lá? A segunda é a questão local: essas questões concernem a nós, brasileiros? Como o homem ou a mulher do povo brasileiro reagiria naquelas circunstâncias? Se a ética é uma das questões mais relevantes na produção – ela surge como um dado importante –, como é a ética do brasileiro? E aqui é uma pergunta sem julgamentos; trata-se de pensar como a ética do povo organiza suas relações. Será que a ética que o povo vive não é funcional? Pois este é um dado importante sobre a ética: ou ela é funcional ou ela não é, ela não serve. As relações éticas não vêm de cima pra baixo, elas sempre traduzem relações pragmáticas dentro de uma sociedade. E, mesmo distante dos meios e anseios acadêmicos e religiosos, elas estão em evidente movimento.
Nessa obra, afirma-se que o diretor transcendeu a esfera da moral religiosa, propondo uma discussão aberta sobre dramas humanos como amor, solidão, amizade, medo. Como o discurso religioso permeia o conjunto da obra?
Se o diretor transcendeu a esfera da moral religiosa, devemos nos perguntar se a obra interessa, então, para uma discussão na esfera religiosa. Mas isso nos leva a outra questão: como se faz para transcender a esfera da moral religiosa? Se a religião cristã já nos propõe uma ética que viria a nos libertar do medo, da solidão e das angústias, como é que existe algo que transcende isso? Se Jesus propõe a misericórdia e o perdão como pedras de toque em sua doutrina – e aqui falo também do autoperdão –, como uma obra que as vezes se limita à angústia pode ter transcendido a esfera da moral religiosa? Agora, se tratarmos de dogmatismo religioso, o assunto é outro. Talvez por isso o diretor tenha proposto uma discussão aberta. Mas pensemos no Brasil: qual dogmatismo que realmente funciona aqui? Historicamente, a nossa população leva ao desespero qualquer pregador dogmático.




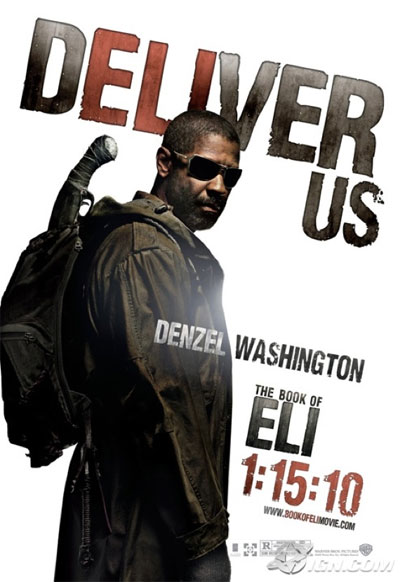

 vivemos. Isso é o que fazemos’. Talvez ele precisasse daquele versÃculo para justificar o que estava fazendoâ€.
vivemos. Isso é o que fazemos’. Talvez ele precisasse daquele versÃculo para justificar o que estava fazendoâ€.